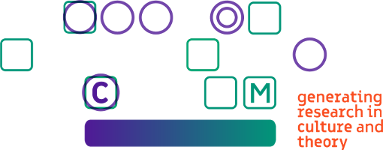Resumo
O presente texto propõe uma reflexão a respeito do(s) ponto(s) de vista narrativo(s), de modo que, para tal, também se concentra em diversificar os pontos de vista para ver a própria narrativa, isto é, maneiras distintas e/ou/mas não necessariamente excludentes de entender o processo através do qual se constrói a narrativa e, por consequência, o conhecimento. O texto busca em Le Guin a ideia de “cestas culturais” ´[cultural carrier bags] e recorre ao clássico texto de Benjamin “O narrador” ou, em nova tradução, “O contador de histórias” a fim de discutir os modos empregados por aquele que narra para transmitir aquilo que é trazido como narrativa que é passada ao longo dos anos; mas também através do relato da própria experiência, bem como aquele trazidos pelos xamãs que narram (criam) o que experenciam e o que já experenciaram, tornando, então, o ato de narrar o movimento ambivalente par exellence, capaz de, estando no presente, apontar tanto ao passado quanto ao futuro; à vida e à morte; à verdade e a mentira; ao que foi, o que é e o que será, bem como ao que jamais foi e o que jamais será. Enfim, o narrar é visto como se dando sempre a partir do “ponto de vista da morte”, ponto liminar, de intersecção de mundos e experiências.
Abstract
The present text proposes a reflection regarding the narrative point(s) of view, in such a way that, to that end, it also concentrates in diversifying the points of view used to look at the narrative itself, that is, the distinct and/or/but not necessarily excludents ways to understand the process through which the narrative is built, and, as a consequence, so is knowledge. The text brings Le Guin’s ideia of “cultural carrier bags” and resorts to Benjamin’s classic text “The Narrator” in order to discuss the strategies employed by the ones who narrate so they may transmit what is brought as a narrative that has been passed on throughout the years; but also through the reporting of the their own experiences, as well as those brought by shamans that narrate (create) what they experience and what they have experienced, transforming the act of narrating into the ambivalent movement par exellence, capable of, whilst in the present, point to the past and the future; to life and death; to the truth and the lie; to what was, what is and what will be, as well as to what has never been and will never be. Thus, narrating is seen as something that happens from the “point of view of death,” a borderline point, an intersection between worlds and experiences.
Keywords: narrative, points of view, ficção
1. Narrar é conhecer – e conhecer talvez seja, ao fim e ao cabo, narrar. A etimologia já aponta para essa relação (ambos os verbos derivariam da mesma raiz indo-europeia *gno-), que, porém, envolve mais do que um parentesco de origem. Ursula Le Guin, ao buscar redefinir, a partir de Elizabeth Fisher, a “tecnologia e a ciência como primariamente cestas culturais [cultural carrier bag] ao invés de armas de dominação”, e pensar também a ficção como uma cesta do tipo, parece indicar que a narração é o cesto em que se armazena e transporta e a partir do qual se distribui o conhecimento e/ou vice-versa. A narrativa, o contar ou ouvir histórias, é (quase) sempre) um modo de conhecimento, e de transmissão de experiências: assim, o conhecimento espiritual supremo no catolicismo (e mais especialmente no protestantismo), excetuado o misticismo (que, por sua vez, sempre torna-se relato da experiência inefável) se dá por meio das narrativas que constituem as Escrituras, assim como, mutatis mutandis (e há muito que muda nessa analogia), o xamã marubo, na sua viagem por outros planos (ou dimensões, como se quer que as chame), movida por uma busca de saber tanto ontológico quanto pragmático (explorar outras regiões de existência muitas vezes para conseguir curar uma doença), “relata, reporta e torna visíveis seus trajetos” (Pedro Cesarino) pela fala, falando o vivido assim como vivendo o falado (narrando o que está a conhecer, e conhecendo o que está narrando). Por outro lado, todo conhecimento implica (traz dentro de si) uma narrativa maior que o legitima (ideológica, diriam os marxistas suspeitosos de toda narrativa que não a sua) – ou seria a narrativa (um “Grande Relato”, pra usar a expressão de Lyotard) a cesta que contém em si os regimes de saber?
2. Uma narrativa, tomada em si, é independente da distinção entre verdade e mentira. Pode-se narrar tanto os fatos que aconteceram quanto os que não aconteceram, ou ainda outros que estão aquém dessa divisão (o campo a que demos o nome de ficção). Verdadeira, mentirosa, ficcional, são adjetivos que adjuntamos às narrativas, a posteriori, e que não afetam em nada a sua eficácia como cesta que contém conhecimento (conhecer nunca é só conhecer o que foi – e conhecer a própria distinção entre o que foi e o que não foi, e tudo isso que está entre uma coisa e outr,a talvez seja algo que só seja possível através do conhecimento de narrativas, de seu funcionamento, de seu estatuto, conhecer que só adquirimos pelo narrar, por ouvir histórias, pelo contato com narrativas e narradores, e as artimanhas que estes conhecem). E nunca se narra só fatos. Narra-se também sempre a si mesmo, i.e., a narrativa que constitui (em todos os sentidos) uma vida e que se dá a conhecer: o nosce te ipsum, a injunção de conhecer a si mesmo, inscrita no oráculo de Delfos – gnōthi seauton, poderia, assim, também ser uma injunção de narrar a si mesmo, relatar a si, como diria Judith Butler. Toda narrativa tem um narrador – que nunca coincide com aquela pessoa individualizada que narra.
3. Sempre se narra a partir de algum ponto de vista. Os marcadores evidenciais, tão importantes nas línguas de povos que valorizam a maior ou menor proximidade com o sujeito da experiência (do conhecimento), como no caso de vários povos indígenas, trazem inscrita essa relação. Esses mesmos povos, porém, muitas vezes valorizam também como forma privilegiada de conhecimento narrativas em que a distância com o narrado é, tendencialmente, máxima, a saber, os mitos, as narrativas de origem, as narrativas originárias (o que não deixa de ser o caso da relação dos cristãos com a Bíblia, novamente mutatis mutandi, e ressaltando mais uma vez o muito que deve ser mudado, a ponto de talvez se tratar de outra coisa). Isso não implica, porém, que não importa quem conte, para quem conte e o tipo de conhecimento que a relação envolvida em contar essa narrativa importe. Dito de outro modo: o mito, encarado estruturalmente, pode ser uma narrativa, a princípio, sem ponto de vista (ou com ponto de vista absolutamente onisciente, o que quer dizer a mesma coisa), o que não implica que o seu narrar, a narrativa da narrativa, seja ela mesma isenta de ponto de vista. Tomemos um exemplo (só a título de exemplo): em sua etnografia sobre os Aikewara, Orlando Calheiros afirma que “inquiridos sobre seus costumes, sobre o mundo e seus motivos, era comum que meus amigos, sobretudo os mais velhos [grifo meu], divagassem até encontrar em seu repertório uma se’eng-kwera [“fala-de-outrora”, um mito], a qual, explicavam, continha a resposta”. Aqui, a narrativa, embora contenha uma distância (vivencial) entre narrador e narrado, apresenta-se, ao mesmo tempo, como forma privilegiada – forma (e relação) dominada e praticada especialmente pelos mais velhos – para transmitir um conhecimento a um interlocutor (no caso, um antropólogo), para o qual tal distância vivencial é exponencialmente maior (se as mesmas perguntas fossem feitas – e é o caso de perguntar se e quais seriam – por um integrante do próprio povo, talvez fossem respondidas de outros modos, possivelmente até por outras narrativas que não as míticas), ou seja, para transmitir conhecimento entre (poderíamos dizer) mundos ontologicamente distantes. Transportando o que Cortázar disse sobre a poesia, a narrativa possibilita “intercâmbios ontológicos”.
4. No seu célebre ensaio “O narrador”, mais recentemente e apuradamente, retraduzido como “O contador de histórias”, Walter Benjamin apontava justo a distância entre narrador e auditório como garante da narrativa enquanto conhecimento, transmissão de experiência, distância interna (temporal), como no caso do contador ancião da terra local, ou externa (espacial), como no caso do viajante: “A experiência que passa de pessoa a pessoa é a fonte a que recorreram todos os narradores [contadores] (…). O narrador retira da experiência o que ele conta: sua própria experiência ou a relatada pelos outros. E incorpora as coisas narradas à experiência dos seus ouvintes”. Recorre, portanto, “ao acervo de toda uma vida”, “uma vida que não inclui apenas a própria experiência, mas em grande parte a experiência alheia. O narrador assimila à sua substância mais íntima aquilo que sabe por ouvir dizer”. Proximidade experiencial com o narrado, e distância com o auditório: a narrativa, enquanto forma de conhecimento, é uma arte das distâncias, de lidar com as distâncias, de transmitir através da distância, constituindo-a e atravessando-a no mesmo gesto. É por isso que ela se constitui como a “faculdade de intercambiar experiências”, que não transmite a “coisa narrada como uma informação ou um relatório”, mas “mergulha a coisa na vida do narrador para em seguida retirá-la dele. Assim se imprime na narrativa a marca do narrador”, diferenciando-a da da “informação”: “Cada manhã recebemos notícias de todo o mundo. E, no entanto, somos pobres em histórias surpreendentes. A razão é que os fatos já nos chegam acompanhados de explicações. Em outras palavras: quase nada do que acontece está a serviço da narrativa, e quase tudo está a serviço da informação. Metade da arte narrativa está em evitar explicações” (grifo nosso). Afinal, na narrativa, o narrador (e o ouvinte – pois ela depende do “dom de ouvir”, que estaria, à época de Benjamin, declinando) está sempre implicado, e narrar “é menos responder a uma pergunta que fazer uma sugestão sobre a continuação de uma história que está sendo narrada”.
5. A narrativa é uma trama, uma tessitura, um tecido, um texto, armado a partir de algum ponto. Ou seja, narra-se sempre a partir de algum ponto da própria trama: todo narrador é implicado, todo ponto de vista é, para usar uma expressão de Souriau, “ponto testemunhal”. Mais especificamente, o narrador é aquele que põe ponto, quem pontua (como diz Silviano Santiago sobre Grande sertão: veredas), quem põe o ponto final (que é, como vimos, a sugestão para que a narrativa continue, de outro lugar, a partir de outro ponto): o ponto de vista é sempre dado ou definido a partir do seu final, é sempre o ponto final, é sempre de onde se põe ponto. Poder-se-ia dizer assim, numa formulação extrema, que narra-se sempre a partir da morte: “é no momento da morte que o saber e a sabedoria do homem e sobretudo sua existência vivida – e é dessa substância que são feitas as histórias – assumem pela primeira vez uma forma transmissível. Assim como no interior do agonizante desfilam inúmeras imagens – visões de si mesmo, nas quais ele se havia encontrado sem se dar conta disso -, assim o inesquecível aflora de repente em seus gestos e olhares, conferindo a tudo o que lhe diz respeito aquela autoridade que mesmo um pobre-diabo possui ao morrer, para os vivos em seu redor. Na origem da narrativa está essa autoridade. A morte é a sanção de tudo o que o narrador pode contar. É da morte que ele deriva sua autoridade”. Como será explicitado por Blanchot, quem narra narra sempre a partir da sua própria morte. A narrativa a antecipa, e o ponto de vista do narrador é, no limite, um “ponto de vista da morte”.
6. O “ponto de vista da morte”, formulação de José Antonio Pasta Jr., é um topos central da literatura brasileira, cuja manifestação mais conhecida talvez seja o falecido Brás Cubas narrando suas Memórias póstumas, e que foi lido por Pasta na chave sociológica (e sociologizante) da “formação supressiva”, como uma espécie de luto interminado e interminável, pois que referente a um objeto que se perdeu sem chegar a vir a ser (o velho mote da modernização incompleta – ou incompletante, diríamos – do Brasil…). Recuemos, porém, um passo – para dentro do romance citado e para dentro da história interna das formas romanescas e de sua compreensão teórica e conceitual, mais especificamente, para um dos capítulos iniciais de Brás Cubas, que parece ser a instauração ad hoc da cena de sua própria enunciação, a constituição ex nihilo do ponto de vista do narrador morto. Refiro-me a “O delírio”, em que Brás Cubas, após ser levado ao princípio dos tempos, assiste, do alto, ao desfile da história universal, tendo como guia a Natureza (ou Pandora), assim, com maiúscula, substantivada e divinizada, e que se apresenta como sendo não só a vida, mas também a morte. Arriscaria dizer que aqui se estabelece uma equivalência entre o ponto de vista da morte, dos mortos, e o ponto de vista divino, de Deus, a saber, onisciente e onividente, fora da história e da estória, modelo ideal de uma certa concepção idealizante do narrador observador em terceira pessoa, que explica mas não é implicado, que vê sem ser visto (escusado dizer que se trata de uma construção doutrinária mais do que algo que possa ser encontrado de fato em narrativas particulares). Nesse sentido, é como se Machado de Assis dissesse por meio de tal equivalência, que Deus está morto, ou melhor, que o ponto de vista divino está morto, que o ponto de vista de Deus é o ponto de vista da morte, ponto de vista impossível (é um delírio, afinal…) – o próprio Humano do humanismo já tivera sua morte decretada pelo humanitismo cínico de Quincas Borba. O corolário é evidente: não há ponto de vista onisciente, todo narrador é um narrador implicado, toda narração, mesmo em terceira pessoa, é uma narração em primeira pessoa. Como dirá anos mais tarde Simone Weil, “Uma posição indiferente é aquela que se encontra fora do ponto de vista”, ou seja, o ponto de vista é necessariamente diferencial, e estar fora dele significa não ter por que dizer. Pois bem, ainda assim, o morto Brás Cubas fala, os mortos falam, mesmo em nossa sociedade industrial (ainda que incompletamente industrial e por isso mesmo mais industrializante), ainda que tenhamos perdido o “dom de ouvir”, isto é, o dom que Roberto Zular caracteriza como o de “produzir pontos surdos na nossa própria voz que nos torne capazes de ouvir a complexa rede de recados (…) nessa encruzilhada de mundos”.
7. O “ponto de vista da morte”, assim como o “ponto testemunhal”, enquanto formulações extremas do ponto de vista do narrador, da relação entre narrador e narrativa, são como que declinações que evidenciam o paradoxo do observador (a teoria da relatividade levada até as suas últimas consequências) constitutivo da própria narrativa, e que se deixa a ver, enquanto sintoma, no que foi convencionado chamar de meta-literatura (desde sempre presente na história da literatura: Ulisses narrando a si mesmo na Odisseia, Sherazade sendo objeto da própria narrativa nas Mil e uma noites, etc.). Narra-se, repitamos, sempre de dentro da própria trama, a partir de um ponto do próprio enredo, mas também narra-se para fora, para fora da própria trama, para fora da própria experiência (visando transmiti-la), para fora do próprio mundo (visando comunicar-se com outro). É esse ponto liminar, ponto de vista limite, ponto de vista do limite, que permite a transmissão entre mortos e vivos, que permite, ao mesmo tempo, a morte do narrador e a continuação da narrativa. O ponto final é também e paradoxalmente ponto de partida – terminus ad quem e terminus a quo.
8. Juliana Fausto propôs traduzir “The Carrier Bag Theory of Fiction” de Le Guin como “A teoria bolseira da ficção”. Uma versão quase-pós-apocalíptica seria: a teoria sacoleira da ficção, tendo em mente todo um universo do precariado contemporâneo, em especial os catadores, que como que juntam os restos do nosso mundo para a partir dele formar outros. Se Le Guin ressaltava a necessidade de contar uma outra história que não a falocêntrica da dominação, o apelo de Donna Haraway hoje vai no sentido de (pros)seguir essas outras narrativas, de catar e continuar as outras histórias para evitar que elas morram junto com os narradores. Afinal, como dizia Benjamin, se o inimigo vencer, nem os mortos – e suas histórias – estarão a salvo. E só os mortos podem (nos) contar.
9. Nas suas formulações sobre o perspectivismo ameríndio (grosso modo, a teoria de que, nas cosmologias amazônicas, cada espécie vê a si mesmo como humana – como sujeito – e as demais como animais), Eduardo Viveiros de Castro invoca o topos do “encontro sobrenatural na mata”, que pode ser resumido da seguinte maneira, sem prejuízo de suas variações possíveis: um sujeito, humano, está sozinho na mata, na floresta, ou seja, fora da aldeia, da segurança do parentesco, e se depara com algo que ele vê como sendo um animal (digamos, uma onça), mas que lhe dirige a palavra, que fala com ele como se fosse também humano. Uma cisão, ou melhor, uma dis-junção se estabelece entre o que o sujeito vê e o que ele ouve – fazendo emergir o que poderíamos chamar, com Guimarães, o “invisto” enquanto tal. Numa espécie de ato falho ontológico, que faz emergir o “inconsciente ótico” pela fala, o ponto de vista (a perspectiva) do sujeito se converte naquilo que Fernand Deligny chamou de “ponto de ver”, um modo de “ver sem querer ver”, ou mesmo um modo de ver sem ver. Pois ver uma onça falar, além de indesejável, é mau sinal: significa que a sua posição subjetiva está para ser capturada por uma subjetividade mais forte, a da onça (ou o espírito de algum morto que virou onça). Responder a uma onça equivale a tornar-se onça, afinal, só onças – e xamãs – falam com onças; responder ao chamado do animal equivale então a ser subjugado à “capacidade dele de definir a realidade”, sofrer uma “despossessão subjetiva absoluta”, uma “profunda alienação.” Ou seja, responder à onça equivale a morrer, passar para o seu mundo, para outro mundo, em que as onças é que são gente, e os homens são caça, presa. A alternativa é não responder à onça, mas fugir para casa. Porém, só isso não basta para sobreviver: é preciso falar, narrar esse encontro sobrenatural na floresta, sobre isso que Viveiros de Castro chama de “quase-morte”, de “quase-acontecimento”. Caso contrário, se o sujeito volta e silencia sobre sua experiência, há grande risco de continuar a ser atormentado por ela, adoecer e morrer: o quase-acontecimento, então, termina de acontecer, e a quase-morte se converte em morte. Por isso, a “quasidade é o modo de existência por excelência da morte, a narrativa: a morte é algo sobre o que você fala”, já que experimentá-la diretamente, experimentar a morte, significa justamente a impossibilidade de voltar a falar. É preciso narrar, narrar aos próximos, aos parentes, para que estes o ouçam, para que estes reconheçam no narrador a sua humanidade, para que ele possa reconhecer-se vivo. A narrativa, iniciada a partir do ponto de ver, do ponto de vista da morte, do final do narrador, é o que permite garantir que ele está vivo, que ele continue vivo, que a história continue. Depois de ter vivido o narrado, é preciso narrar o vivido, transformando-o em outra coisa, possibilitando que a experiência se intercambie aos outros. Porém, quem garante que é aos humanos que ele está contando a sua história? Quem garante que é aos antigos parentes que se dirige, e não aos novos parentes, parentes onça? A narrativa, como uma cesta, pode tê-lo transportada ao lado de lá, a outro mundo ontologicamente distinto e distante, do qual nunca ninguém voltou para contar a sua história (para contar a narrativa de sua experiência pessoal de passagem, mas também a narrativa do outro mundo, visto do lado de lá), a não ser Macuncôzo, o onceiro de “Meu tio o Iauaretê, que, por isso mesmo, “teve” de ser morto. Mas a sua história, convertida em nossa experiência pela transmissão da narrativa, é agora também aquela que devemos continuar para evitar o fim, para adiar, como diz Ailton Krenak, o fim do mundo. Afinal, “a literatura”, como diz Roberto Zular, “é linguagem com o mundo dentro”.
Autor
Professor dos Programas de Pós-Graduação em Letras e em Filosofia da Universidade Federal do Paraná. Fundador do species – núcleo de antropologia especulativa e Bolsista de Produtividade em Pesquisa 2 do CNPq.
Referências
Benjamin, Walter. (1994). Magia e técnica, arte e política. (Obras escolhidas, v. 1). 7. ed. Tradução de Sérgio Paulo Rouanet. São Paulo: Brasiliense.
Blanchot, Maurice. (1987). O espaço literário. Tradução de Álvaro Cabral. Rio de Janeiro: Rocco.
Butler, Judith. (2015). Relatar a si mesmo: crítica da violência ética. Tradução de Rogério Bettoni. Belo Horizonte: Autêntica.
Calheiros, Orlando. (2014). Aikewara: esboços de uma sociocosmologia tupi-guarani. Tese de doutorado defendida no Museu Nacional/UFRJ.
Cesarino, Pedro de Niemeyer. (2006). De duplos e estereoscópios: paralelismo e personificação nos cantos xamanísticos ameríndios. Mana, 12(1):105-134.
Cortázar, Julio. (2008). Valise de cronópio. Tradução de Davi Arriguci Jr. e João Alexandre Barbosa. Organização de Haroldo de Campos e Davi Arriguci Jr.. São Paulo: Perspectiva.
Deligny, Fernand. (2007). Oeuvres. Edição estabelecida e apresentada por Sandra Alvarez de Toledo. Paris: L’Arachnéen.
Krenak, Ailton. (2020). Ideias para adiar o fim do mundo. São Paulo: Companhia das Letras.
Lapoujade, David. (2017). As existências mínimas. Tradução de Hortência Santos Lencastre. São Paulo: n-1 edições.
Le Guin, Ursula (1996). “The Carrier Bag Theory of Fiction”. In Cheryll Glotfelty e Harold Fromm. The ecocriticism reader: landmarks in literary ecology. Athens: University of Georgia Press; pp. 149-154.
Lyotard, François. (1990). O pós-moderno. 3. ed. 2. reimp. Tradução de Ricardo Corrêa Barbosa. Rio de Janeiro: José Olympio.
Machado de Assis, Joaquim Maria. (1881). Memórias posthumas de Braz Cubas. Rio de Janeiro: Tipografia Nacional.
Machado de Assis, Joaquim Maria. (1891). Quincas Borba. Rio de Janeiro: Garnier.
Pasta Jr., José Antonio. (2011). Formação supressiva: constantes estruturais do romance brasileiro. Tese de livre-docência de Literatura Brasileira, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo.
Santiago, Silviano. (2017). Genealogia da ferocidade. Recife: Cepe.
Viveiros de Castro, Eduardo. (2009). “A morte como quase-acontecimento”. Palestra no programa Café Filosófico da TV Cultura/CPFL. Disponível em: https://institutocpfl.org.br/integra-a-morte-como-quase-acontecimento-eduardo-viveiros-de-castro/