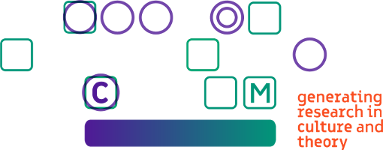Vol 21 (2022) Antropoficciones
Imaginação radical no/para o fim do mundo:
estudo, fuga, ou alguns sussurros sobre viver outramente
Kevin Hacling Alves Gomes
Abstract
Lauren Olamina is the central character of the Earthseed series by black feminist, Afrofuturist science fiction author Octavia E. Butler (2018, 2019). Olamina is hyperempathic, which means that she has the ability to connect to and absorb the pains, pleasures, and intensities of all living things around her. Hyperempathy is about attention to virtuality and the inexorable implicancy of existence. While this syndrome can weaken her, it also allows Olamina to actively connect with the force diagrams that surrounds her. As a result, painful, tortuous, and suffocating situations and events also hold possibilities of learning, of/to study. Inspired by Donna Haraway (2009a), I mobilize science fiction as a rhetorical strategy and as a political method to elaborate a radical critique of the global-present. I do this from what I call the Signs of the End of the World that present themselves to me from my positionality: hundreds of thousands of dead bodies due to the Covid-19 pandemic, the return of hunger in this territory called Brazil, the advance of dust clouds that swallow whole parts of cities, indigenous children devoured by mining machines, the exponential advance of algorithmic capitalism and data surveillance, the destruction of biomes, etc. In this sense, the first step is to argue for hyperempathy as a war machine to study the choreographies of the time. Then, from the Signs of the End, it is a matter of developing the argument that this world-to-end – what Denise Ferreira da Silva (2019) calls The Ordered World – has been forged and endures through an anthropocentric metaphysics. I suggest that to cross and traverse the impossible of this epoch, as well as to anticipate the End of the World as we know it, it is necessary to activate our radical imagination to think the world, our lives, and our politics otherwise – beyond the Ordered World and toward the Implicated World (FERREIRA DA SILVA, 2019). I (un)conclude by announcing the power of radical imagination in the making of a non-human and non-anthropocentric ethics, which glimpses the dissolution of the Ordered World and is implicated with the cosmic. Without wanting to give answers and keys to open doors, it is, rather, about the use of science fiction as a mapping of social reality and as a critical imaginative resource. These are whispers about the political tendencies that run through our flesh and subjectivities. A study at/of the limits of the modern/colonial anthropocentric repertoire and, from this limit-precipice, an invitation to leap towards fugitiveness, towards fugitive planning.
Keywords: Science Fiction; Radical Imagination; Anticolonial; Fugitive Planning; Non-Anthropocentric Ethics
Resumo
Lauren Olamina é a personagem central da série “Semente da Terra”, da autora preta e feminista de ficção científica afrofuturista Octavia E. Butler (2018, 2019). Olamina é hiperempata, o que significa que ela tem a habilidade de se conectar e absorver as dores, os prazeres e as intensidades de todas as coisas vivas à sua volta. Trata-se da atenção à virtualidade e à inexorável implicação da existência. Embora essa síndrome possa enfraquecê-la, também permite que Olamina se conecte ativamente com o diagrama de forças que a envolve. Com isso, situações e eventos dolorosos, tortuosos e sufocantes acabam guardando, também, possibilidades de aprendizado, de estudo. Inspirado por Donna Haraway (2009a), mobilizo a ficção científica como estratégia retórica e como método político para elaborar uma crítica radical do presente-global. Realizo isso a partir do que chamo de Sinais do Fim do Mundo que se apresentam para mim desde minha posicionalidade: centenas de milhares de corpos mortos devido à pandemia de Covid-19, a volta da fome neste território chamado Brasil, o avanço de nuvens de poeira que engolem partes inteiras de cidades, crianças indígenas devoradas por máquinas de mineração, o avanço exponencial do capitalismo algorítmico e de vigilância de dados, a destruição de biomas, etc. Nesse sentido, o primeiro passo é argumentar em favor da hiperempatia como máquina de guerra para estudar as coreografias do tempo. Em seguida, a partir dos Sinais do Fim, trata-se de desenvolver o argumento de que este mundo-por-acabar – aquilo que Denise Ferreira da Silva (2019) chama de Mundo Ordenado – foi forjado e perdura através de uma metafísica antropocêntrica. Sugiro que para atravessar o impossível desta época, bem como para adiantar o Fim do Mundo como o conhecemos, é necessário ativar nossa imaginação radical para pensar o mundo, nossas vidas e nossas políticas outramente – além e aquém do Mundo Ordenado e rumo ao Mundo Implicado (FERREIRA DA SILVA, 2019). (In)concluo anunciando a potência da imaginação radical na feitura de uma ética não-humana e não-antropocêntrica, que vislumbra a dissolução do Mundo Ordenado e é implicada com o cósmico. Sem querer dar respostas e chaves para abrir portas, trata-se, mais bem, da utilização da ficção científica como mapeamento da realidade social e como recurso imaginativo crítico. São sussurros acerca das tendências políticas que atravessam nossas carnes e subjetividades. Um estudo nos/dos limites do repertório antropocêntrico moderno/colonial e, desde esse limite-precipício, um convite para saltar rumo à fuga, ao plano de fuga.
Palavras-chave: Ficção Científica; Imaginação Radical; Anticolonial; Plano de Fuga; Ética Não-Antropocêntrica
As tecnologias ancestrais nós temos pra induzir o sonho dentro de um pesadelo. Entre um traçante e outro dilatar o tempo e imaginar um mundo novo.
Don L
Pra dívida impagável ser paga eu quero de volta tudo que o devorador roubou.
Ventura Profana
Prelúdio/Advertência
Este não é um texto comum. Este jamais poderia ser um texto comum. Trata-se, mais bem, de um estudo tramado e costurado em meio ao caos, ressoando em tom de ruído. É um experimento agenciado, ao mesmo tempo e indissociavelmente, nas franjas e no núcleo disso que me atravessa. No limite, trata-se de uma fuga que se dá por entre as frestas, brechas e buracos de minhoca instáveis que se abrem di(ante) do abismo do presente-global. Dito de outra maneira, este texto é uma força que, excedendo-me, escorre de mim –e isso não acontece sem que haja dor, ansiedade, perturbação do sono e tensão na carne.
Sou/estou uma criatura que brotou no interior árido de uma das regiões mais pobres da distopia brasilis. Um corpo e uma subjetividade quentes, que ardem como uma fornalha, que crepitam como um vulcão em atividade. Dissidente da heteronorma, empobrecido e atravessado pelas heranças malditas dos cruzamentos e genocídios dos povos africanos escravizados e dos povos indígenas do sertão do estado de Pernambuco, sou, inegavelmente, testemunha de um enunciado. Ele se manifesta em inscrições e cicatrizes que brotam por todos os lados, em todas as direções e além, como sintomas da transmutação de uma época.
Ao refinar o olhar, ao aguçar o faro, ao afiar a lâmina, ao sofisticar a atenção às vibrações que chegam aos meus pés e ao implicar-me com a geografia e com as vidas mais-que-humanas que me cercam e me atravessam, penso e sinto que, de fato, o mundo como o conhecemos está acabando – e é este o argumento que tentarei, precária e fragilmente, desenvolver ao longo deste texto-experimento. No entanto, é preciso uma advertência. Penso e sinto também que se faz necessário, desde já, assumir a seriedade que é anunciar/propor um Fim. O experimento que construirei ao longo das próximas páginas não se confunde com as modalidades capitalísticas de anúncio do fim do mundo. É preciso tomar cuidado e produzir movimentos de distanciamento da captura destrutiva do capitalismo e seu fetiche por um apocalipse final. Sabemos que as forças capitalísticas neoliberais se nutrem de crises e de ideias de fim dos tempos/planos de emergência; atualizando sempre que possível uma equação que hiperssatura o capitalismo e o leva ao seu limite – “provocando” uma crise – para, então, reformulá-lo e adaptá-lo, reproduzindo nada menos que devires reativos dos mesmos estratos de poder que configuram e irradiam hierarquias geopolíticas, de raça, classe, gênero e sexualidade há muito antigas.
Aqui, contrariamente, em um movimento fugidio, trata-se de habitar esta encruzilhada que é o nosso presente-global e de imaginar outras formas de ser e saber que se abrem justamente a partir da dissolução deste mundo. Imaginar formas de existir, criar e devir que escapam à Razão Universal, à Transcendência, ao Entendimento Moderno (Ferreira da Silva, 2019) e à Plantação Cognitiva (Mombaça, 2020). Por isso, cara leitora, iniciei anunciando que este jamais poderia ser um texto comum. Ao ser um experimento que se faz à revelia do mundo como o conhecemos e ao tentar romper com o Entendimento, é muito provável que este texto-experimento contraste e destoe dos demais textos deste dossiê.
É possível, aliás, que haja bastante desconfiança dos argumentos que levantarei a seguir, das interconexões que irei tentar produzir e dos feitiços que estarão implícitos por entre as palavras, linhas, ideias, forças e afetos que se estenderão adiante. Mas é justamente a partir desta tensão fecunda (Rolnik, 2019) – encruzilhada, abismo, subcomum, deserto, mar-aberto, mistério –, munido de um processo especulativo além e aquém do aparelho de captura que é a modernidade/colonialidade (Gomes, 2021), que pretendo causar uma que/bra no Entendimento, uma torção na Ciência, uma dobra nas pesquisas das Ciências Humanas e Sociais e um rasgo ou um corte – ainda que momentâneo, instável, precário e fracassado – na carne e na subjetividade de quem encontrar isso-que-vaza-de-mim.
Dito isso, o percurso que procurarei desenhar a seguir é simples. Em primeiro lugar, irei apresentar a série de ficção científica preta que me inspirou na escrita desse texto, a “Semente da Terra”. Particularmente, darei ênfase ao contexto sócio-político e à síndrome de hiperempatia da personagem central dessa mesma série, analisando aspectos micropolíticos potentes que tal síndrome abre mesmo di(ante) da dor e da vertigem do abismo do Fim. Em seguida, tento agenciar em mim mesmo a hiperempatia – essa máquina de guerra da ficção científica preta –, buscando me implicar com as intensidades e com os jogos de forças que atravessam o meu mundo. Faço isso no intuito de cartografar aquilo que chamo de Sinais do Fim, os quais chegam a mim desde minha posicionalidade, desde essa carcaça que habito e sou/estou. O passo final será desenvolver uma reflexão-afeto que demanda não a salvação deste mundo, mas a aceleração de sua dissolução; uma vez que o mundo-por-acabar é alicerçado em um modo de vida antropocêntrico e moderno/colonial, que oblitera e mina vidas pobres, negras, inconformes e mais-que-humanas. Concluo compartilhando alguns sussurros, rascunhos e pistas acerca do trabalho Poético – isto é, ético-estético – de acabar com a sustentação do Mundo Ordenado e avançar rumo ao Mundo Implicado (Ferreira da Silva, 2019); e como esse trabalho passa, necessariamente, pelo abandono do Humano e de sua ética antropocêntrica.
Esta é minha primeira tentativa de agenciar leituras que tenho feito já há alguns anos junto de leituras que tenho feito mais recentemente. Assim, esse texto-experimento está atravessado por uma multidão de tradições e referências – algumas vezes mais explícitas, outras de maneira mais opaca. Trata-se de assumir uma visão e uma posição abolicionista do mundo, que não teme a vertigem do Fim justamente porque nós, de alguma maneira, sempre fomos criaturas gestadas em meio a apocalipses diversos, tramadas entre extremos de forças. O que nós – e esse nós é um rizoma aberto, uma manada em devir mutante, amorfa e borrada – demandamos é o fim do mundo que criou problemas para nós nos opormos.
Compõem minha maneira de pensar, sentir, criar e devir a filosofia da diferença, os estudos anticoloniais, o pensamento negro-travesti radical, a ficção científica, os estudos queer, tradições indígenas nativas, a especulação crítica, a ética espinosista e a imaginação radical. Mas também atravessam minha com/posição e meu estudo algumas obras musicais do rap brasileiro, criações e performances de artistas racializades e cisheterodissidentes, além de meus próprios experimentos com psicoativos, com a poesia e com a pintura em aquarela.
Após a advertência resta, por fim, o convite rumo aos mistérios e segredos, às curvas e linhas e às im/possibilidades infinitas que se abrem a cada vez que, di(ante) o abismo do Fim, uma pessoa pobre se torna um bricoleur de sua própria vida; a cada vez que uma bicha de cor acessa e torce a pós-graduação brasileira e a ética da brasilidade; a cada vez que uma travesti abriga outra em um refúgio seguro. Isto diante de vossos olhos é uma estratégia de sobrevivência. Isto é um feitiço noturno. Isto é uma fissão impossível. Isto é uma rota de fuga. Isto é um respiro agoniado e dolorido. Isto é um milagre incapturável. Isto é um estudo opaco. Isto é uma dança ao redor do fogo e das brasas. Isto é uma nuvem de fumaça devindo em transe. Isto é uma sinestesia. Isto é um despertar-se e um implicar-se. Isto é um sopro. Isto é um portal. Isto é só o começo do fim. Isto é infinito.
Hiperempatia/Máquina de Guerra
Lauren Oya Olamina é a personagem central da série – de dois tomos – “Semente da Terra”, da escritora Octavia E. Butler. Cada tomo tem como título o nome de uma parábola – nomeadamente, “A Parábolas do Semeador” (Butler, 2018) e “A Parábola dos Talentos” (Butler, 2019). Butler foi uma autora ligada à tradição do pensamento negro radical, agenciando na ficção científica discussões que perpassam temas como violência, racismo, misoginia, crise climática, autoritarismo, futurismo e governança. Assim, encontrei nessa série de ficção científica uma força anticolonial para o agora; uma maneira de aguçar meu faro e minha atenção para estudar os diagramas de forças que se apresentam desde cá.
Ao me implicar com um trabalho de ficção científica para maquinar análises (precárias) sobre as cartografias de morte e mais-que-morte da distopia brasilis, quero libertar-me das habituais maneiras, métodos e procedimentos utilizados nas Ciências Humanas e Sociais. Mais uma vez, quero desertar o Entendimento e trabalhar contra o arquivo, especulando e fabulando em uma zona de intensidade onde o real e o fictício já não são senão dobras do mesmo platô intensivo. Afinal, já se passaram décadas desde que, no instigante “Simulacros e Simulação”, Jean Baudrillard (1991: 156) afirmou que ‘a ficção científica […] já não está em lado nenhum e está em toda a parte’. Então eu vim para cantar à revelia dos estrados e seguimentos que calcificam nossa imaginação política e nossa radicalidade (micro)política.
Portanto, daqui em diante, tomo Butler – e, mais precisamente neste exercício de escrita, Olamina – como uma anciã sábia, como uma ancestral, uma entidade ou uma força molecular-cósmica que me ajuda a meditar, produzir conhecimento e sobreviver em meio ao e apesar do Fim. Para compartilhar e estudar isso, primeiramente, proponho que adentremos no mundo de Olamina e nos impliquemos com suas táticas de sobrevivência, com suas máquinas de guerra.
A série “Semente da Terra” começa no ano de 2024. Olamina é uma garota afrodescendente, filha de um pastor batista, e vive em Roblelo, um bairro murado nos arredores da cidade de Los Angeles, Califórnia. Olamina sente, recorrentemente, que o mundo como ela conhece está por um fio. Os sinais disso brotam por toda parte, de modo que ela intui, pouco a pouco, que está – como sugere Jota Mombaça (2021) – diante dos portões do fim do mundo.
Os bairros são murados para proteger as casas da violência do lado de fora; só é permitido sair armado – mesmo os cristãos batistas – e em grupos; há uma crise hídrica e alimentícia, tornando a água escassa – só chove uma vez a cada seis ou sete anos (Butler, 2018: 23) – e mais cara que a gasolina; e alguns grãos e leguminosas a essa altura já foram extintos. Há também a proliferação de tiros vindos do lado de fora e a intensificação de intrusões e roubos aos bairros murados. Aos poucos e paulatinamente, começa uma escalada intensa de invasões das casas por homens que estupram mulheres e, eventualmente, assassinatos começam a ocorrer. O retorno de epidemias de sarampo e cólera em alguns estados norte-americanos já é realidade nesse cenário, além da difusão de novas drogas experimentais.
Olamina toma para si que não é boa em negação e autoengano. De fato, como ela relata em seus diários, ‘as coisas estão se desdobrando, se desintegrando pouco a pouco’ (Butler, 2018: 154). Ela sente que as coisas estão piorando, e que é preciso fazer algo. Ao contrário do que pode parecer, o pessimismo de Olamina diante do cenário devastador que se desenha não a paralisa e nem a deixa inerte. São as atrocidades e as tendências mesmas de seu Tempo e Espaço que fazem com que Olamina comece a se preparar e a tentar encontrar maneiras de sobreviver para o que está por vir depois do Fim – seja lá o que isso for. Afinal, ‘não resta dúvida de que as coisas piorarão, mas é justamente a partir dessa consciência trágica do colapso em curso que é possível elaborar as rotas e táticas para a fuga’ (Mombaça, 2021: 110).
Lauren Olamina, além disso tudo, também é portadora da síndrome de hiperempatia. Essa síndrome – que atravessa sua vida graças ao uso abusivo do Paracetco, também conhecido como o pó de Einstein, uma daquelas drogas experimentais estimulantes utilizada por sua falecida mãe durantre a gravidez – faz com que ela sinta as dores e os prazeres de todas as coisas vivas ao seu redor. Nas palavras de Olamina, ‘sinto o que vejo os outros sentirem ou o que acredito que eles sintam. A hiperempatia é o que os médicos chamam de síndrome orgânica ilusória’ (Butler, 2018: 22).
Aqui, vale uma breve pausa para uma análise fecunda. Octavia E. Butler torce a concepção cienticifista-patológica da síndrome e, no lugar de tornar-se um empecilho para a sobrevivência, a hiperempatia funciona como uma tecnologia que permite o engajamento social, político e afetivo-cartográfico de Olamina com as forças, curvas, arestas e brechas de seu mundo. Pois, como ela mesma relata em seus diários, ‘minha hiperempatia faz de mim uma covarde, às vezes. Mas também faz com que eu resista à covardia’ (Butler, 2019: 370).
Nesse sentido, ao implicar-se com as tendências, as coreografias e os Sinais do Fim do seu mundo, bem como ao utilizar a síndrome de hiperempatia como tecnologia que permite a continuação de sua vida, Olamina realizada nada menos que um estudo. Aqui, aciono precisamente a noção de Fred Moten e Stefano Harney sobre estudo.
Em “The Undercommons” (Moten & Harney, 2013) os autores se dedicam a pensar o que estudar (to study) significa e possibilita, em especial o estudo preto (black study). Como apontado por Mombaça (2021: 109) o estudo preto é ‘compreendido aí como ‘estudo sem finalidade’, estudo para a fuga, para o plano de fuga, isto é: para a fuga sem finalidade, para a fuga indefinida em meio à noite preta dos subcomuns’. O estudo, diferentemente da produção de conhecimento institucionalizada, não está pautado no Entendimento, no logos cartesiano ou no âmbito da reflexão de um sujeito autoconsciente e autorreferente.
Diz respeito, mais bem, a uma tecnologia de sobrevivência, a uma máquina de guerra que possibilita – ao mesmo tempo – o erguimento de barricadas e o movimento fugidio rumo ao domínio opaco e incapturável da existência. O estudo é um abrir-se e um implicar-se com toda uma zona de intensidade – poderíamos dizer um platô – preenchida por forças e afetos que, necessariamente, fluem e diferem além e aquém do Humano.
Estudar, portanto, significa estar atenta às coreografias que se desenham, às modalidades de captura e morte que se articulam e, a partir dessa atenção minoritária, planejar maneiras de aprender para sobreviver. Ou seja, aprender a sobreviver fugindo sem pausa, sem fim (finalidade) e sem um fim (final). Afinal, ‘o estudante continua estudando, continua planejando estudar, continua correndo para estudar, continua estudando um plano […]’ (Moten & Harney, 2013: 62).1 Em suma, o estudo é um plano de fuga, um plano sem pausa, uma tática de sobrevivência, um portal instável que não se contenta com o sempre-já do mundo-por-acabar: um mundo sustentado por uma ética antropocêntrica, por uma monocultura dos afetos, por um circuito de afetos/modo de vida identitário-figurativo (Gomes, 2021).
Nesse sentido, a síndrome de hiperempatia de Olamina – uma menina jovem, negra, que se recusa a aceitar as violências de seu mundo – abre possibilidades de estudo para a sua sobrevivência. A ansiedade que ela sente percorrer por sua carne diante da escalada de eventos tortuosos, bem como as dores mesmas causadas em função do seu compartilhamento, são senão aquilo que a leva a entrar no estudo. No ano de 2025, em um diálogo com sua amiga Joanne, Lauren afirma que é justamente isso que tem feito: lido e estudado coisas nos últimos meses. Ela se dedica a aprender tudo o que pode, enquanto pode, enquanto ainda há tempo; tudo o que talvez a ajude a sobreviver ao iminente Fim que, devido à sua síndrome, ela sente que se desenha. O Fim é, numa palavra, inevitável.
A certa altura da conversa que está tendo com sua amiga, Olamina anuncia que qualquer coisa pode ajudar a aprender, a estudar. E incentiva sua amiga dizendo ‘use sua imaginação. Qualquer informação de sobrevivência em enciclopédias, biografias, qualquer coisa que te ajude a aprender a viver fora daqui e a se defender. Até mesmo um pouco de ficção pode ser útil’ (Butler, 2018: 77). Gostaria de destacar dois pontos dessa passagem.
Primeiro, a importância e o cerne que a imaginação tem nas vidas de pessoas negras, precarizadas e dissidentes. Aqui, quando falamos de imaginação queremos dizer imaginação radical; isto é, aquela liberta da ética antropocêntrica das formas, do sempre-já, do repertório moderno/colonial. Imaginação radical é outra forma de dizer estudo. E, em segundo lugar, o destaque que Olamina dá à ficção como matéria e tecnologia para a sobrevivência. Mais uma vez, ao mobilizar aquilo que opera “fora” – utilizo aspas porque não acredito que exista um fora absoluto, senão um fora que acontece no núcleo mesmo das coisas e das vidas – dos registros da realidade e da ética antropocêntrica, Olamina produz movimentos fugidios que possibilitam a Vida di(ante)/através/apesar do Fim.
Os materiais com os quais ela se implica para estudar são, apenas para citar alguns, ‘três livros sobre sobrevivência selvagem, três sobre armas e tiro, dois de cada sobre como lidar com emergências médicas, plantas nativas e naturalizadas da Califórnia e seu uso, e sobre coisas básicas da vida: construir casas de madeira, criar gado, cultivar plantações, fazer sabão’ (Butler, 2018: 75-76). Mais adiante, no exercício continuado de se implicar com os diagramas de forças que atravessam sua existência e sua carne, Olamina prepara um pacote de sobrevivência que, não por acaso, chama de kit de fuga. Reproduzo, abaixo, uma versão resumida do trecho de um dos diários de Olamina, no qual ela conta quais os elementos presentes em seu kit de fuga:
[…] Peguei uma machadinha, por exemplo, e duas panelas pequenas de metal. […] Peguei as centenas de dólares que guardei – quase mil. […] Encontrei um cantil antigo e uma garrafa de plástico para armazenar água, e decidi mantê-los limpos e cheios. Guardei palitos de fósforo, uma muda de roupas, incluindo sapatos, para o caso de ter que sair correndo à noite, além de pente, sabonete, escova e pasta de dente, absorventes, papel higiênico, faixas para curativo, alfinetes, agulha e linha, álcool, aspirina, algumas colheres e garfos, um abridor de lata, meu canivete, pacotes de farinha de bolota, frutas secas, castanhas assadas e sementes comestíveis, leite em pó, um pouco de açúcar e sal, minhas anotações de sobrevivência, vários sacos plásticos, pequenos e grandes, muitas sementes plantáveis, meu diários, meu caderno da Semente da Terra e uma corda de varal comprida
(Butler, 2018: 103-104).
Para prever o futuro – isto é, para captar o que está por acontecer, porque já está acontecendo – Olamina sabe que o que precisa fazer é atravessar o medo. E, nesse movimento, nesse estudo na e para a fuga, para o plano de fuga, ela começa a se preparar para o pior, para atravessar o Fim e continuar viva depois que tudo for dito e feito.2 Ela começa a se ocupar e a planejar a sua sobrevivência, mesmo que esse plano seja um plano aberto e opaco, para sempre em devir, ruidoso e estranho até para ela. Em certa passagem Olamina diz que não sabe o vai acontecer, nem quando vai acontecer, mas o que resta a fazer é se preparar.
Podemos nos preparar. É o que temos que fazer agora. Precisamos nos preparar para o que vai acontecer, nos preparar para sobreviver a isso, para construir uma vida depois. Temos que nos concentrar em conseguir sobreviver para poder fazer mais do que sermos comandados por pessoas loucas, desesperadas, bandidos e líderes que não sabem o que estão fazendo!
(Butler, 2018: 72)
Segurar a barra. Sobreviver. Insistir na vida. Continuar, apesar de. São essas as tecnologias ancestrais dos povos escravizados, dos povos indígenas, das travestis periféricas e das multidões fracassadas que são agenciadas por nós, todos aqueles e aquelas que vivem à revelia do mundo que nos mata. Assim, ao frequentar o abismo (Glissant, 2021) e ao encarar de frente as dores e os mistérios que se precipitam durante o que, posteriormente, ficou conhecido como o período do The Apocalypse ou simplesmente The Pox (O Apocalipse, A Praga), Olamina parece ser ao mesmo tempo herdeira e professora de uma arte – de uma Poética, de uma ética-estética – do estudo para a fuga, para o plano de fuga. Uma fuga indefinida, continuada e fractal. Como ressaltado por Mombaça (2021: 55), ‘é a atualização indefinida desses sinais [do Fim] que, na subjetividade sitiada de Olamina, propicia a formulação de uma futuridade ameaçada, perante a qual, no entanto […], não cabe esperar passivamente’.
O último passo antes de passarmos para a próxima seção é ressaltar a importância das fragilidades integradas, das diferenças implicadas no plano de fuga que Butler desenha na “Semente da Terra”. Quando, finalmente, no meio de uma madrugada o bairro onde vive é invadido por usuários de Pyro – uma outra droga experimental, que faz com quem a use sinta um desejo incontrolável de atear fogo nas coisas e nas pessoas, além de levar os usuários a sentir mais prazer ao ver as labaredas ardendo do que o orgasmo sexual –, os quais realizam uma série de assassinatos, roubos, estupros e degradações nas residências, hortas e postos de guarda, Olamina acorda com o barulho e os gritos de horror e morte de seus vizinhos, tateia e alcança seu kit de fuga e, numa corrida árdua e tortuosa devido ao seu compartilhamento, finalmente chega ao lado de fora e continua a fugir. No doloroso registro posterior em seus diários ela escreve: ‘ontem à noite, quando fugi do bairro, ele estava em chamas. As casas, as árvores, as pessoas: em chamas’ (Butler, 2018: 188).
Falo continua a fugir porque, de fato, acredito que a fuga de Olamina se iniciou muito antes da invasão e do incêndio de seu bairro. A fuga radical e o abandono do mundo como o conhecemos é uma fuga sem fim, como nos lembram Moten e Harney. Conforme havia sentido vibrar em sua carne e em sua subjetividade, de fato as coisas pioraram de vez e o estudo – este implicar-se, este devir e desfazer-se das amarras do mundo e da ética antropocêntrica – possibilitou a fuga de nossa personagem. Do lado de fora de Roblelo, dando continuidade à sua fuga indefinida calcada na imaginação radical e insistindo na sobrevivência como um projeto aberto e em devir, Olamina passa a encontrar outras criaturas em fuga. Afinal, a experiência de frequentar o abismo do Fim não é solitária, senão coabitada e partilhada por outras tantas vidas que vivem e vibram no domínio opaco do apesar de.
Assim, nesse movimento fugidio que encontra outros movimentos fugidios – como múltiplas linhas de devir se encontrando, intercruzando e fluindo pelos estratos –, Olamina começa a estudar as possibilidades (de sobrevivência) que se abrem quando, no plano de fuga, vidas frágeis e erráticas se ajuntam e anunciam: a gente combinamos de não morrer!3 É precisamente este o ponto que quero discutir para concluir esta seção – isto é, as possibilidades im/possíveis que se abrem quando vidas tramadas no e apesar do apocalipse se aglutinam, como num quilombo ou numa roda para fumar um baseado, e se manifestam umas nas outras.
Após tanto se preparar para aquilo que ela não sabia o que seria, Olamina consegue, junto de um par de amigos de infância, escapar do bairro em chamas numa fuga desesperada. Depois de alguns eventos nas primeiras horas que se seguiram à invasão de sua morada, o pequeno grupo se torna ‘parte de um amplo rio de gente que caminhava em direção ao oeste na estrada’ (Butler, 2018: 217), numa tentativa de deixar para trás a violência e os incêndios que estavam se proliferando de forma exponencial. Ainda de acordo com os registros dos diários de Olamina, aquele rio de pobres, de vidas frágeis, fracassadas e desesperadas formava uma grande massa amorfa e dissonante, unida pela eventual experiência do desamparo e do estilhaçamento:
As pessoas da via expressa formavam uma massa heterogênea – negras e brancas, asiáticas e latinas – cujas famílias estão se mudando com bebês nas costas ou em cima dos carrinhos lotados, carroças ou cestos de bicicleta, às vezes junto com uma pessoa velha ou com deficiência. Outras pessoas com doença ou deficiência caminhavam da melhor maneiras que conseguiam com a ajuda de cajados ou companhias mais adequadas. Muitos se armavam com canivetes em bainhas, rifles e, é claro, armas em coldres, mas visíveis. Os policiais que ocasionalmente passavam ali nem se importavam
(Butler, 2018: 218).
Aqui, Butler nos leva a observar como minorias políticas – jovens, pobres, pessoas de cor, pessoas com deficiência – estão, de alguma forma e desde sempre, em um exercício de fuga, de plano de fuga. E isso precisamente porque o mundo como nos foi dado a conhecer é um mundo forjado e sustentado em uma ética antropocêntrica, racista, capacitista, cisheterossexual e moderno/colonial. Este mundo nunca nos foi suficiente. Este mundo nos empurrou para uma guerra forjada contra e à revelia de nós. Nossas vidas im/possíveis são, como na fuga de Olamina, a manifestação da insistência e preservação de uma força afirmativa que vive, vibra e brilha.
É nesse rio heterogêneo de gente – cada pessoa funcionando e se efetuando como uma singularidade em devir e em fuga – que Olamina começa, aos poucos, a reunir um grupo diverso: interracial, com homens e mulheres, jovens e idosos. Ao se implicar com as histórias e os afetos de algumas pessoas devido à sua condição de hiperempata, Olamina começa a ajudar certos indivíduos, em certas ocasiões, por razões que escapam o Entendimento. Seja salvando uma pequena criança solitária, oferecendo um pouco de comida ou fazendo companhia na caminhada indefinida, Olamina passa a congregar em torno de si não apenas um grupo múltiplo, mas a cultivar a força vital e a dimensão espiritual de vidas estilhaçadas reunidas. A certa altura ela diz: ‘nós ajudamos uns aos outros. Um grupo tem força’ (Butler, 2018: 375).
Durante esse gregarismo fugidio, esse ajuntar e implicar de vidas dissidentes, Olamina começa também a compartilhar alguns versículos, ideias e princípios filosóficos de uma teologia experimental que vem desenvolvendo desde que sente que o mundo está acabando e que o Fim é iminente. Em uma fuga desesperada e continuada – sem fim –, frequentando o abismo e atravessando o Fim, vemos nascer, no interior de um rio de gente que flui em fuga, o nascimento de uma nova fé: a Semente da Terra.
A teologia experimental de Olamina acolhe a diferença e a mudança. Um de seus versículos é: ‘Tudo o que você toca / Você Muda / Tudo que você Muda / Muda você / A única verdade perene / É a Mudança / Deus é Mudança’ (Butler, 2018: 12). Ao procurar lidar com a mudança como algo inevitável e com a necessidade inexorável de fins e recomeços, bem como ao sustentar a importância da formação de vínculos que se dão não pela identidade, mas pela afinidade partilhada, Olamina investe seu desejo em um mundo outro que se faz em movimento, mudança, diferença e incapturabilidade. Esse estudo da mudança e das diferenças implicadas – e a potência que aí reside – me lembra um trecho de um dos livros do poeta e ensaísta negro Édouard Glissant. Nessa passagem o autor discorre – com uma beleza e uma força arrebatadoras, que fazem meu coração acelerar e meus olhos marejarem – sobre a força do imprevisível, tomando como exemplo a revoada de pássaros. Reproduzo o trecho a seguir:
Imagine o voo de milhares de pássaros sobre um lago da África ou das Américas. O Tanganica ou o Erie, ou um desses lagos dos Trópicos do Sul que se aplanam e se fundem à terra. Veja essas revoadas de pássaros, esses enxames. Conceba a espiral que eles desenlaçam, e na qual o vento escorre. Mas não saberá enumerá-los verdadeiramente durante o seu lançar-se todo em crista e ravina, sobem e descem fora da vista, caem e enraízam-se, revoam em um só ímpeto, seu imprevisível é o que os une e rodopiando aquém de toda ciência. Sua beleza golpeia e foge
(Glissant, 2014: 21).
Tal como a revoada de pássaros e sua imprevisibilidade, o grupo que Olamina vai erigindo se caracteriza por seus movimentos fugidios, incapturáveis. Como enunciado por Glissant (2021: 30), ao frequentar o abismo do Fim ‘você compartilha o desconhecido com algumas pessoas que você ainda não conhece’. Mas essa experiência mesma – não pautada pelas identidades, mas pelas linhas de devir das vidas despedaçadas – é o que possibilita o saber da Relação; isto é, o implicar e o compartilhar que não se dão pela comunicação, pelo Entendimento e pelo texto moderno/colonial, mas por forças misteriosas e opacas que escapam os domínios do Humano. Trata-se de singularidades interagindo e diferindo.
Os projetos abertos de fragilidades integradas, diferenças reunidas e dissonâncias implicas, portanto, não estão contidos nos reinos da compreensão e da normalidade. Na fuga que abandona a plantação incendiada e estuda para fertilizar imaginários,4 é uma insistência na vida, na capacidade de se adaptar e de lidar com a mudança que acontece e se afirma. Como Olamina manifesta: ‘somos sobreviventes. […] Fomos maltratados de todos os modos possíveis. Todos fomos feridos. Estamos sarando da melhor maneira que conseguimos. E não, não somos normais. Pessoas normais não teriam sobrevivido ao que sobrevivemos. Se fôssemos normais, estaríamos mortas’ (Butler, 2019: 451).
Concluo, assim, chamando a atenção para a potência de projetos im/possíveis, forjados na experiência do estilhaçamento, na que/bra e na dissonância. Acredito que, nesse movimento errático mesmo, agenciando suas diferenças e implicando-se com os diagramas de forças do Fim, grupos-em-devir se formarão e se manifestarão – como desde sempre fazem –, produzindo vida lá onde ela é prisioneira e estéril. Esses grupos funcionarão – já funcionam; somos herdeiras deles, de seus feitiços opacos, de seus cânticos noturnos e de suas tecnologias – como matilhas, onde ‘cada um permanece só, estando no entanto com os outros (por exemplo, os lobos-caçadores); cada um efetua sua própria ação ao mesmo tempo em que participa do bando’ (Deleuze & Guattari, 2011: 61). Fomos, somos e seremos bandos, gangues, matilhas, manadas, constelações e seres-de-lama agenciando a imaginação radical para traçar um mundo novo.
Recuperando o objetivo desta seção, realizei todo esse investimento na ficção científica de Octavia E. Butler e na história de fuga-e-vida de Lauren Olamina para mover e agenciar em mim isso que leva Olamina a estudar, fugir e continuar viva. A hiperempatia de Olamina desperta um outro tipo de atenção em sua subjetividade. Nesse espaço compartilhado com outras vidas – humanas e mais-que-humanas – e se implicando com o que significa a escalada de eventos tortuosos em seu contexto, nossa personagem encontra maneiras de atravessar o Fim, de congregar vidas im/possíveis em um grupo imprevisível e incapturável, e de compartilhar ensinamentos sobre mudança, fim e recomeço.
Inspirado por Donna Haraway (2009a) e seu mito-ciborgue, acredito que a ficção científica pode funcionar como uma tecnologia de estudo, de implicação com o mundo. Afinal, como nos lembra a autora, ‘a fronteira entre ficção e realidade é uma ilusão de ótica’ (Haraway, 2009a: 36); um dualismo que pode estreitar leituras e análises, tornando-as inférteis. Minha intenção é, assim como fez Haraway, mobilizar a ficção científica como estratégia retórica liberta do Entendimento – o que significa precisamente anticolonialidade – e como método político de engajamento e leitura dos muros e brechas do mundo como o conhecemos.
Também como a autora, acredito e sinto que ‘é a simultaneidade dos colapsos que rompe as matrizes de dominação e abre possibilidades geométricas’ (Haraway, 2009a: 84). Portanto, para estudar tal simultaneidade de colapsos e os Sinais do Fim do Mundo Ordenado (Ferreira da Silva, 2019) desde minha posicionalidade, realizo uma abertura e uma implicação com a imaginação radical fugidia que encontrei na “Semente da Terra” e na Poética especulativa da obra de Butler. Mais precisamente, a seguir procurarei agenciar a máquina de guerra molecular-vibrátil (Gomes, 2021) que é a hiperempatia em meu estudo para realizar a travessia do Fim, para entender a dissolução como uma forma (radical) de cuidado e para continuar viva, na fuga.
Como apontado por Jim Miller (1998: 338), a ficção científica de Butler não é uma forma de fantasia escapista, e que ‘nós podemos mais utilmente lê-la como um lugar extremamente importante de atividade política’. Portanto, numa tentativa precária, opaca e noturna de desenvolver uma atividade política de leitura da distopia brasilis e além, passo a elencar e compartilhar aquilo que chega até minha carcaça e, como na síndrome de hiperempatia de Olamina, me faz sentir que o mundo como o conhecemos está, de fato, acabando. Que as coisas não vão melhorar. E, como Olamina, sinto que é preciso fugir disso que acaba para construir algo novo, adaptável, maleável e aberto – além e aquém da ética antropocêntrica do Mundo Ordenado e rumo ao Mundo Implicado. É preciso estudar os Sinais que brotam nas carnes, na terra, na atmosfera e nos inconscientes.
Sinais do Fim do Mundo
Essa escrita é um brado e um pranto. É uma insistência. É uma tentativa desesperada de lidar com isso que ressoa em mim. Não se pode sair ileso ao atravessar campos em chamas, ao frequentar o abismo e ao tentar continuar viva em um mundo que, de fato, nos aprisiona, nos paralisa e nos mata. Seguindo as intuições da pensadora negra radical Hortense Spillers (2021), sinto que a carne da pessoa cativa, nativa ou dissidente é um arquivo; uma narrativa primária que se tornou um arquivo das violações, barbáries e torturas que esse mundo nos causou e causa. Isso só pode ser verdade. Ao (tentar) (sobre)viver na distopia brasilis sendo uma criatura pobre, de cor e dissidente da heteronorma, minha carcaça grita gritos inaudíveis.
Sinto arrepios que sobem pela espinha. Sinto a boca seca. O coração em disparada. A inquietude na perna, que não para de tremer. O peso sobre os ombros. As unhas roídas. Sinto tudo isso e mais, muito mais do que posso descrever. Sinto tudo isso porque, não resta dúvidas, sei que não sinto sozinho. Sinto que outras vidas im/possíveis e que/bra/das sentem isso e além. Sinto que o planeta sente dores que são indescritíveis e incompreensíveis para o Entendimento Humano. Sinto pois não me engano, e escolho encarar a realidade de frente, sem desviar o olhar e sem recorrer a projetos há muito falidos.
Escolho – e, na realidade, não se trata de uma escolha autoconsciente, mas de uma força ou um feitiço mais-que-humano que me empurra para isso – me implicar e estudar aquilo que vibra em mim e fora de mim para anunciar o Fim. É (a tentativa de) um movimento minoritário de fuga, de ex/orbitância (Campos Leal, 2021) e de experimentação; de implicação com a paisagem, com a arquitetura, com a acústica e com a esfera inconsciente das vidas do mundo. E, como nos lembra Vinícius da Silva (2021: 20), ‘para anunciar o fim do mundo precisamos estar vivas, com os pés fincados no chão que nos deu a luz para finalmente proclamar: somos muitas e viemos roubar os sonhos de quem não nos deixa sonhar’. Então, com os pés fincados no chão numa espécie de imanência radical – movimento que chamei, em uma outra oportunidade, de geoafectosociologia (Gomes, 2021) – eu vim para cartografar e anunciar os Sinais do Fim.
Eles brotam e irrompem por todos os lados. São inegáveis, embora o modo de vida enraizado na subjetividade cisbranca antropocêntrica pareça negá-los ou optar por seguir fingindo como se nada estivesse acontecendo. Isso eu não consigo. Minha carcaça – superfície, entranhas, pele e nervos – não consegue não perceber as tendências da política contemporânea. Sou uma criatura que não consegue não ser empurrada a estudar as modalidades de atualização do epistemicídio e genocídio negro e indígena, as feridas abertas na terra que piso e os constrangimentos desejantes – aparelho de captura inconsciente (Deleuze & Guattari, 2010) – que o mundo como o conhecemos efetua sobre nossas vidas.
Compartilho a seguir – como que para registrar e para fazer rumar essas palavras, ideias e afetos até lugares im/possíveis – um breve inventário disso que tenho tentado chamar e articular como os Sinais do Fim do Mundo. Este é um exercício continuado, que não cessa de se atualizar e não se esgota com meus exemplos precários e contingentes. Além disso, uma vez mais, quero deixar escuiresido (Campos Leal, 2020) que eu o realizado desde cá, desde minha escrita posicionada/saber localizado (Haraway, 2009b) e minha experiência de dissidente sexual empobrecido e de cor que brotou neste cativeiro que é o Brasil. Não posso senão pensar que o que se segue são, de fato, os Sinais do Fim do Mundo.
O mundo acabou quando a prefeitura de Balneário Camboriú, cidade no sul do Bra$il com um dos metros quadrados mais caros do paí$, realizou o aterramento de uma parte do mar que banha a cidade – avançando a faixa de areia em vários metros para dentro do mar. Camboriú tem dezenas de edifícios altíssimos de frente para o oceano, o que resulta em sombras que se estendem não apenas na areia, mas também pelo mar adentro. O empreendimento, de acordo com especialistas, já afetou a fauna e a flora locais. O mundo acabou quando a vereadora Marielle Franco, mulher preta, periférica e lésbica, foi assassinada pela milícia do Rio de Janeiro devido a seu engajamento com lutas sociais e de reparação política. O mundo acabou quando, enquanto o presidente do Bra$il Jair Bolsonaro e sua comitiva gastavam milhões em Dubai, moradores de Fortaleza e Olinda, cidades do Nordeste brasileiro, procuravam comida e mantimentos em caminhões de lixo. O mundo acabou quando esse mesmo governo ignorou mais de uma centena de e-mails enviados pela Pfizer oferecendo vacinas contra a Covid-19, o que hoje resulta em mais de 660.000 mortes pela doença apenas na distopia brasilis…
O mundo acabou quando, devido às secas, ao agronegócio, às queimadas e à crise climática, nuvens de poeira e tempestades de areia engoliram partes inteiras de cidades do interior de São Paulo. Os ventos raivosos carregados de um pó amarronzado invadiram casas e prédios, atravessando as cidades a muitos quilômetros por hora. O mundo acabou quando crianças Yanomani da comunidade Makuxi Yano, em Roraima, foram sugadas e assassinadas pelo maquinário do garimpo ilegal enquanto brincavam em um rio. O mundo acabou e acaba a cada vez que vejo, bem cedo da manhã, pessoas empobrecidas em filas imensas nas agências da Caixa Econômica Federal, numa espécie de batalha contra a burocracia moderno/colonial das instituições financeiras para tentar conseguir o auxílio emergencial da pandemia ou outros auxílios de seguridade social…
O mundo acabou quando, de acordo com o último relatório da Transgender Europe, o Bra$il continuou na liderança mundial de assassinato de pessoas trans. Entre 1 de outubro de 2020 e 30 de setembro de 2021 foram registrados 125 assassinatos de trans neste território, levando a distopia brasilis a representar 41% de todos os assassinatos de pessoas trans no planeta no referido período. Para um outro momento fica a necessária discussão sobre os limites do arquivo, dos registros de morte e daquilo que tangencia os dados quantitativos. O mundo acabou quando o escritor racializado e imigrante dominicano Leuvis Manuel de Olivero, autor de um livro sobre a vida e luta de Marielle Franco, foi morto ao ser baleado saindo de um restaurante na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ainda no Rio de Janeiro – essa cidade terrível, longe de ser maravilhosa, erigida sobre o genocídio indígena e negro –, o mundo acabou quando crianças periféricas começaram a desmaiar nas salas de aula diante de suas professoras devido à fome que se alastra pelo paí$. Isso não é um caso isolado, e se estende por outras grandes cidades brasileiras…
O mundo acabou quando um grande outdoor oferecendo descontos na compra de armas foi instalado na BR-232, que liga o interior de Pernambuco à sua capital, Recife. O mundo acabou quando, na cidade de São Paulo, policiais e evangélicos fundamentalistas ameaçaram invadir escolas por praticarem “ideologia de gênero”. O mundo acabou quando fiscais do Ministério Público do Trabalho resgataram 116 trabalhadores escravizados em Águias Frias de Goiás, Centro-Oste brasileiro. Entre essas pessoas estavam crianças, adolescentes e doentes. O mundo acabou em 1492, quando a primeira nau ibérica aportou em Abya Yala. O mundo acabou com a proliferação, nos últimos anos, de contingentes da polícia militar aqui, no interior do agreste pernambucano. O mundo acabou quando essa mesma polícia invadiu a casa de amigas minhas, em busca de maconha; causando nelas – em nós – danos subjetivos imensuráveis…
O mundo acabou com a crescida exponencial da aprovação de agrotóxicos no Brasil. Desde que Bolsonaro assumiu, 1682 novos produtos agrotóxicos foram aprovados, totalizando, enquanto escrevo, um montante de 3748 produtos agrotóxicos comercializados de forma legal e autorizada na distopia brasilis. O mundo acabou com a invasão de bolsonaristas a um programa de rádio que meu pai apresentava numa emissora de nossa cidade. Os homens estavam descontrolados e irritados devido ao fato de um dos participantes do programa daquele dia ter dito, no ar, que Bolsonaro era culpado pelas mortes de Covid-19 no Brasil. O mundo acabou quando o governo Bolsonaro realizou cortes estratosféricos na pesquisa científica brasileira, levando-me a cursar o doutorado sem bolsa e sem financiamento de pesquisa. O mundo acabou quando perdi meu chão ao terminar, há apenas algumas semanas, meu namoro, porque sentia que nossas vidas já não estavam mais devindo juntas. O mundo acabou quando percebi que a monogamia, o amor e as expectativas Humanas são grilhões que nos impedem de diferir…
O mundo acabou quando o imigrante congolês Moïse Kabagambe, de 24 anos, foi morto a golpes de taco de beisebol, em um quiosque no Rio de Janeiro, porque havia ido cobrar um valor que tinha a receber devido a serviços prestados ao quiosque. O mundo acabou quando a prefeitura do Recife criou um projeto para instalar 108 relógios digitais com câmeras de reconhecimento facial na cidade. Sabemos o que a vigilância de dados e a governança algorítmica representa para pessoas racializadas e pobres, como é a grande maioria dos habitantes do Recife. O mundo acabou quando aviões pulverizadores dispersaram agrotóxicos sobre aldeias indígenas Guaraci-Kaiowá, no Mato Grosso do Sul, fazendo chover veneno em um ataque de guerra bioquímica contra povos nativos. O mundo acabou quando Fabiana Silva, mulher trans empobrecida, foi morta a golpe de facas aqui em Santa Cruz do Capibaribe, no interior de Pernambuco – única cidade do estado a eleger, majoritariamente, Bolsonaro como presidente em ambos os turnos das eleições presidenciais de 2018. Fabiana perguntou a algumas pessoas onde havia um banheiro para usar, quando foi seguida por um macho escroto e assassinada de maneira brutal…
Perceba, cara leitora, que nada disso é novo. Que não se trata de uma sucessão linear de acontecimentos, mas de algo que devém, se sobrepõe, que se efetua em um tempo espiralar. O fato é que sempre estivemos, de uma maneira ou de outra, fugindo ou planejando fugir disso tudo. Estudando a que/bra do mundo e frequentando o limite-precipício que se desenha desde cá, aprendi com Olamina que as coisas não vão melhorar. Aliás, elas só vão piorar.
Ao entrar no estudo e me implicar com o cerne mesmo disso tudo que acontece, lembro da força Poética do pensamento de Denise Ferreira da Silva e sua intuição de que o mundo por acabar é um tipo de mundo. O planeta não se confunde com o mundo como o conhecemos. A autora argumenta que o mundo como o conhecemos – isto é, o Mundo Ordenado – é sustentado por três pilares ontoepistemológicos: a separabilidade, a determinabilidade e a sequencialidade (Ferreira da Silva, 2019). É um mundo que se faz e se perpetua através de uma ética antropocêntrica moderno/colonial, elevando o Entendimento humano, o telos identitário, o logos cartesiano, o Significante e a supremacia cisbrancoheterossexual à máxima categoria. Junto de Ferreira da Silva (2019: 86), me pergunto acerca da potência que reside em ‘um programa ético que, em vez de visar a melhoria do Mundo como o conhecemos, tenha como meta o seu fim’.
O mundo-por-acabar é um mundo que não se implica com as vidas indecifráveis. É um mundo que não se implica com os rios, as montanhas, as florestas e a terra. É um mundo que, arriscaria dizer, sequer sabe se implicar com as máquinas – que são nossas filhas – de uma maneira ética e engrandecedora. Ao realizar uma leitura da realidade munido de uma espécie luz negra – essa luz estranha, azul e opaca, que revela sem iluminar, que mostra o que não pode ser visto nos domínios da iluminação, da transparência e do Entendimento – penso e sinto que o Mundo Ordenado é uma matriz desejante que tem seu fundamento na metafísica antropocêntrica. Como sublinhado por Fred Moten (2021: 152), ‘a promessa de um outro mundo, ou o fim deste, está em uma crítica geral de mundo’.
Assim, numa crítica geral de mundo, quero frisar: o mundo como o conhecemos é um programa de constrição telepática que nos impede de explorar a força de nossa imaginação radical e de nossas vidas em devir. Mobilizando a ficção científica e a política ciborgue, ainda na década de oitenta, Haraway parece intuir esta mesma ideia-afeto que mobilizei ao afirmar que ‘o sexo, a sexualidade e a reprodução são atores centrais nos sistemas mitológicos high-tech que estruturam a nossa imaginação sobre nossas possibilidades pessoais e sociais’ (Haraway, 2009a: 75). Todas essas categorias e classificações nos encerram no sempre-já identitário e nos afastam de possibilidades infinitas.
É preciso, portanto, atravessar o fim desse mundo e tomar a destruição/dissolução como uma tecnologia de cuidado anticolonial e abolicionista; um devir esquizoanalítico que cria passagens dinamitando/abandonando o aparelho de captura. Ou seja, é preciso entrar na órbita dos Sinais, frequentar o abismo – em manadas, nunca solitariamente –, estudar o limite-precipício, levar este mundo até o seu fim para, finalmente, deixá-lo para trás. Félix Guattari (2012: 80, grifos meus) diz:
É sempre a mesma questão: se colocar na tangente da finitude, brincar com o ponto limite. Kafka trabalhou com esse tipo de vertigem da abolição. […] Quando a vertigem da abolição aglomera em si o conjunto dos sistemas de abolição dos outros Territórios existenciais, é a criação de um mundo através do fim do mundo.
Assim, di(ante) dos portões do fim do mundo, agenciando em mim a hiperempatia e estudando os Sinais do Fim como fez Olamina, tomo a experiência da vertigem da abolição como um presente, uma macumbaria ou um psicotrópico. Fugindo, eu canto e profetizo um diagnóstico espectral: ‘a Terra ainda há de tornar-se novamente um lugar de cura. Mas para isso, antes, ela precisa arder’ (Campos Leal, 2021: 11). Que o fogo seja cura!
Atravessando o Fim
Após estudar o terror e se implicar com os diagramas de forças, aproximamo-nos do fim deste trabalho, e agora gostaria de compartilhar algumas intuições (embaçadas) sobre a necessidade de uma leitura abolicionista do mundo para realizarmos a travessia e continuarmos vivas. Di(ante) dos portões do Fim, de mãos dadas com minhas irmãs pós-apocalípticas que manifestam vidas im/possíveis, emanamos uma força que demanda por um fim de mundo e forjamos um cuidado solvente. Nossas vidas minoritárias e improváveis não temem o Fim e esse limite-precipício no qual nos encontramos. Queremos, mais bem, adiantar o Fim, pois o receio de perder o mundo como o conhecemos não é senão o afeto que sustenta e vêm das subjetividades cisheterobrancas e de sua ética antropocêntrica. Isadora Ravena e Lucas Dilacerda (2020: s.p.) nos ensinam: ‘o mundo é uma ferida sobre a Terra’.
É como canta o rapper nordestino e diaspórico Don L – ancestral-futurista cuja obra tem me aberto possibilidades de implicação e de estudo –, numa potente meditação epocal e num refinado faro histórico: ‘Eles já derramaram (quanto?) / Muito mais do possa ser reparado / Eles falam de apocalipse / Mas o meu eles já sentenciaram’. No plano de fuga compreendemos que nutrir o apocalipse do mundo de quem nos mata – isto é, o mundo como o conhecemos – não é apenas possível, mas urgente e necessário. Essa guerra já foi e é declarada contra nós. Jota Mombaça (2021: 82) manifesta o feitiço e anuncia que ‘o apocalipse deste mundo parece ser, a esta altura, a única demanda política razoável’.
E este trabalho de dissolução, travessia e ex/orbitância não é fácil. Não se trata de heroísmo e nem é algo realizado sem medo, dissociado do terror. No entanto, é como se ressoássemos a vida de Bica, personagem de “A gente combinamos de não morrer” – conto presente na obra “Olhos d’água”, da pensadora negra brasileira Conceição Evaristo (2015). A certa altura da narrativa Bica pensa: ‘Se ao menos o medo me fizesse recuar; pelo contrário, avanço mais e mais na mesma proporção desse medo. É como se o medo fosse uma coragem ao contrário. Medo, coragem, medo, coragemedo, coragemedo de dor e pânico’ (Evaristo, 2015: 100). Nós, vidas que vibram e brilham à revelia, avançamos no/com/apesar do medo; apesar do horror e das feridas (abertas) perpetuadas contra nós.
Juntas, na que/bra, atravessando o Fim num estudo sem pausa, tomamos a deserção como ponto de encontro, de alquimia, de cura, de pirataria, de criação e de produção de diferença. Ex/orbitando o Mundo Ordenado e realizando a travessia disso que está por acabar, produzimos estudos noturnos e opacos os quais possibilitam uma Poética não-antropocêntrica. Aprendi com os cálculos de Denise Ferreira da Silva (2019) que menos com menos dá mais, e que nossas vidas negativadas se somam à revelia.
Frequentando o abismo e habitando o limite-precipício do agora, percebemos que ‘como os cangaceiros, bandoleiros dos sertões brasileiros, [nós estamos] condenad[as] a inovar: as estradas consagradas, os velhos caminhos, as trilhas batidas estão nas mãos do inimigo. É preciso pistas novas ou, antes, traçá-las por si próprio no chão: é o caminhante quem faz o caminho’ (Löwy, 2018: 79). Condenadas a inovar e a movimentar-se sem pausa, como matilhas nômades que somos, aprendemos com a fabulação crítica de Saidiya Hartman (2021: 117) que ‘ao lado da derrota e do terror, haveria isso também: o vislumbre da beleza, o instante da possibilidade’.
É preciso, portanto, adiantar o Fim do Mundo – o que não é outra coisa senão um exercício anticolonial de dissolução do Mundo Ordenado. É urgente que nos impliquemos com a imaginação radical liberta do Entendimento para que possamos forjar o mundo e a vida outramente – além e aquém da ética antropocêntrica. Di(ante) da simultaneidade de colapsos, não há outra coisa a se fazer senão cortar o mundo com delicadeza. Precisamos sonhar de olhos abertos, aprender a ler formas e forças opacas – luz ultravioleta forense –, driblar a visibilidade e a transparência do mundo – aparelho de captura – para ‘captar o escuro da terra incógnita por vir’ (Ravena & Dilacerda, 2020, s.p.).
Esburacando, corroendo, dissolvendo, cozinhando, bifurcando e desmoronando, nos aproximamos dessa terra por vir. E, torcendo mais uma vez o Entendimento, anunciamos que essa nova terra já existe, é uma novidade que não deixa de ser uma herança ancestral. Afinal, ‘a meta não é tanto o outro lado, mas o aqui, esse aqui para onde estamos indo e onde já estamos. O aqui de onde viemos’ (Mombaça, 2021: 17). Na tentativa de livrar-se da constrição telepática do Mundo Ordenado e correr em direção ao Mundo Implicado para viver outramente, uma ética do corte – não-humana, não-antropocêntrica – funciona e se exerce como tecnologia desejante e vital.
Há uma ética do corte, da contestação, que procurei honrar e iluminar porque ela demonstra e articula um jeito outro de viver no mundo, um jeito preto de viver juntes no outro mundo que estamos constantemente produzindo neste e a partir deste mundo, na planetaridade alternativa que a presença intramural e de diferenciação interna – a presença (sur)real – da pretitude alinha serialmente como um arejamento persistente, como uma reviravolta insistente de solo sob nossos pés que é a preparação indispensável para a derrubada radical do solo em qual nos encontramos
(Moten, 2021: 188).
Percorrendo campos em chamas, revirando o solo sob nossos pés cansados, estudando e atravessado os Sinais do Fim desde cá e tomando a dissolução como um processo de cuidado radical e especulativo, nos resta, para concluir, discorrer provisória e brevemente que força reside no Mundo Implicado. Finalizo este artigo-ensaio-lombra-máquina-de-guerra-fabulação tentando cartografar que tipo de Poética da Relação – ou seja, que modo de vida, que ética-éstética – está(ria) no cerne do Mundo Implicado e no que ele diferiria, fundamentalmente, do Mundo Ordenado.
Corpus Infinitum: (n-1) + (n-1) + (n-1) + ∞ = ∞ – ∞ ou ∞ / ∞
Se durante o estudo (precário, experimental, lamacento) que engendrei aqui pude perceber que o mundo-por-acabar é uma estrutura que dá sustentação à vida cisheterobranca moderno/colonial, e que uma ética antropocêntrica está no cerne do Mundo Ordenado, resta senão procurarmos maneiras de abandonar o Entendimento, a transparência, o Humano, a transcendência, o holismo subjetivo e o repertório identitário-figurativo que caracterizam o Sujeito deste Mundo. Dito de outra maneira, através da imaginação radial e da força especulativa crítica, quero (convidar a) pensar e sentir a vida além e aquém disso que me marca e captura a rebeldia de meu inconsciente desejante. Como nos lembra abigail Campos Leal, nesse combate (incerto) é preciso, além de incendiar plantações, também fertilizar imaginários. Depois de esgotar tudo, numa espécie de catarse, é preciso também afirmar e experimentar.
Quais seriam, então, os modos de engajamento que, no abismo coabitado, guardariam possibilidades de dissolução do mundo como o conhecemos? Que práticas ético-estéticas nos levariam a uma Implicação Profunda (Deep Implicancy)5 – isto é, a um mergulho nas intensidades vibráteis submoleculares e extraplanetárias – com tudo o que foi, é e virá a ser; além e aquém da História, do Espírito e do Tempo? Aqui, uma nota: eu ofereço e compartilho questões, anseios, confusões e lombras; não respostas e projetos. O que se segue são, portanto, tateios imprecisos e experimentos nas bordas.
A práxis radical que mobilizo aqui demanda, necessariamente, a dissolução do Homem e do Ocidente. Além disso, não se tratando de identidade, semelhança e empatia/sororidade, tal práxis – Poética –, inspirada pelo ciborgue, desconfia de holismos e anseia por conexões, deseja acoplamentos. Como o pensador indígena Ailton Krenak (2020: 33) coloca, é preciso ‘atrair uns aos outros pelas nossas diferenças, que deveriam guiar o nosso roteiro de vida. Ter diversidade, não isso de uma humanidade com o mesmo protocolo. Porque isso até agora foi só uma maneira de homogeneizar e tirar nossa alegria de estar vivos’.
Em um gesto de abertura vital, apostamos na força da nossa dissonância e a manifestamos umas nas outras, na paisagem, no ar e nas vidas mais-que-humanas, não-antropocêntricas. É Haraway (2009a: 83) quem propõe que ‘talvez possamos, ironicamente, aprender, a partir de nossas fusões com animais e máquinas, como não ser o Homem, essa corporificação do logos ocidental’. Ou seja, aprender com o não-humano a desaprender de ser isso que viemos a ser.
Se o presente do Mundo Ordenado é colapso e o futuro está por ser feito, resta-nos aprender com os ensinamentos dos versículos da Semente da Terra, escritos por Lauren Olamina no plano de fuga, e moldar o porvir como argila, direcionar a (inexorável) Mudança. Di(ante) dos Sinais do Fim e atravessando a ruína, propomos a necessidade de remanejar nossas fronteiras cósmicas e subjetivas ao entrarmos em relação com aquilo que Guattari (2012) chama de Universos Incorporais – isto é, aquilo que se efetua além e aquém dos domínios do Humano e de seu programa ético-estético-epistêmico antropocêntrico; livre da captividade imaginativa (inconsciente) que nos constrange e no encerra no sempre-já da injustiça, do arquivo, da dor e da morte.
No Mundo Ordenado fomos cindidas da Terra enquanto esfera de produção vital, apartadas daquilo que Leibniz chama de Plenum (1989) – algo como uma tela infinita em contínua diferenciação; não apoiado em coordenadas referenciais, mas em ordenadas intensivas. Assim, através do princípio ontoepistemológico da separabilidade (Ferreira da Silva, 2019), passamos a pensar que “nós, humanos” somos uma coisa e a Terra e as outras vidas nela são outra. Isso é perigoso, reativo e destrutivo, pois ‘quando despersonalizamos o rio, a montanha, quando tiramos deles os seus sentidos, considerando que isso é atributo exclusivo dos humanos, nós liberamos esses lugares para que se tornem resíduos da atividade industrial e extrativista’ (Krenak, 2020: 49). É preciso implodir o casulo do Humano e romper com a ética antropocêntrica, abrindo-se para outras formas – as formas, em algum momento, de alguma maneira, serão (provisoriamente) necessárias; as intensidades desterritorializadas irão se reterritorializar – e forças da vida não limitada pelo Entendimento.
O Mundo Implicado seria essa esfera em contínua expansão vital que corta com delicadeza e abandona com sagacidade, afirmando os índices da Implicabilidade Profunda que são, de acordo com Ferreira da Silva, a transversalidade, a atrevessabilidade e a transubstancialidade. Dessa maneira, ‘forjando Existência, sem a separabilidade imposta pelas categorias [do Entedimento], […] uma Poética Negra Feminista – inspirada pelas personagens de Octavia E. Butler – lê a Negridade para expor o ardil da Reflexão e do Reconhecimento, isto é, a produção da imagem do Sujeito autocontido e coerente’ (Ferreira da Silva, 2019: 117). O Mundo Implicado é o resultado (mutável) que se efetua quando criamos formas de viver e de se relacionar férteis, protegidas – além e aquém – de investimentos de desejo que conduzem ao sempre-já, que é outro nome para a morte.
Nesse gesto fecundo de abertura e solvência, a ressonância com outros reinos, outras vidas e outras matérias guarda gérmens do Mundo Implicado. O Mundo Implicado, devido ao seu necessário e radical devir-inumano (Deleuze & Guattari, 2011), se faz e se efetua por uma ética não-humana e não-antropocêntrica, atentando para nossa ancestralidade trans-espécie e para fluxos de partículas pré-individuais e supra-individuais, além e aquém do programa humanista transcendente e do inconsciente capitalístico-antropocêntrico. Concluo, assim, com algumas intuições que encontrei em/com Castiel Vitorino Brasileiro, esta criatura (em fuga) que tem prazer em não ser compreendida e desafia a ontoepistemologia moderno/colonial.
Eu (felizmente) jamais daria conta de capturar e comunicar a potência da obra de Vitorino Brasileiro6 em algumas poucas linhas, em ideias tangíveis pelo Entendimento. Apenas quero compartilhar como essa sereia – híbrida de mar, ar, Lua, morte e vida – (r)existe ultrapassando a Raça, a Travestilidade e a Humanidade. Como um Eclipse, Castiel faz nosso pensamento dançar em meio à noite preta e não temer o mergulho ou a queda no desentendimento, nos afastando de explicações monolíticas e tangíveis.
Ela tem produzido intervenções, obras e espaços de cura que descentram e abandonam o repertório moderno/colonial e o altar do Humano. Ao agenciar a cosmovisão Bantu-diaspórica e sua prática vital/espiritual macumbeira, a artista tem experimentado pensar e sentir a transmutação, a hibridez e a opacidade como gestos de cura. Como apontado por Bernardo Mosqueira – curador, pesquisador e escritor – ‘vibrando o conceito de pensamento fractal, como desenvolvido por Denise Ferreira da Silva, a artista nos oferece pensar o afeto e a continuidade entre os corpos numa encruzilhada entre as escalas quântica, orgânica, histórica e cósmica’ (Mosqueira, 2021: 22).
Ao se implicar com a mudança inevitável – que acontece em sua carne, em sua composição química e ao seu redor e além –, Vitorino Brasileiro estuda as forças extraplanetárias para pensar a vida terráquea. Estudando as transições, os borramentos de fronteiras e as alternâncias das energias solares e lunares, a artista aponta que ‘astros não tem gênero ou raça, e daqui de onde eu falo, também não possuo tais identidades. Sou uma animal hibrida de céu e mar’ (Vitorino Brasileiro, 2021: 29). A Poética movida pela artista intui uma que/bra com nada menos que as semióticas significantes (Guattari, 2012) – que são o que constitui o Entendimento –, com o telos identitário e com o aparelho de captura moderno/colonial. Aqui fica evidente o afastamento da ética antropocêntrica e a atualização de um devir-inumano, extraplanetário, animal, além e aquém do Humano.
Me sinto livre quando me relaciono com os reinos vegetais e minerais, não com minha raça ou negritude, mas a partir da minha animalidade. Me sinto livre quando me percebo intuindo a vida terráquea ou cósmica a partir das relações inter e intraespecíficas, e não mais culturais
(Vitorino Brasileiro, 2021: 33-34).
Ex/orbitando o Mundo Ordenado, a radicalidade do pensamento de Vitorino Brasileiro reside na atenção aos músculos, à matéria, à carcaça que vibra à revelia das cartografias do Humano. Ela tenta ‘corporificar a frequência vegetal e mineral’ (Vitorino Brasileiro, 2021: 48), para, anunciando/rumando/devindo o Mundo Implicado, tornar-se imensurável – recordando a revoada de pássaros descrita por Glissant (2014). Imensurável porque, estando além e aquém da Equação de Valor que encerra a vida, a potência imaginativa e os devires inconscientes a-significantes no sempre-já do Entendimento, não pode ser apreendida e delimitada.
Fugindo, procuramos na Grande Noite a Implicação Profunda para nos tornarmos imensuráveis. Incapturáveis. Indescritíveis. Insondáveis. Inegociáveis. Improváveis. Im/possíveis. Infinitas. Nesse gesto errático, frágil e instável – como a instauração de um portal – trabalhamos para que nossas manadas pós-apocalípticas não se assemelhem a nada; porque sendo Nada podemos ser Tudo. As gêmeas Tasha e Tracie – meninas negras da periferia paulistana que com rap, moda e ativismo têm causado que/bras nas hierarquias moderno/coloniais e nos domínios do Entendimento – cantam: ‘Eu sou tão cara que eu não valho nada / Meu preço ninguém pode pagar’. Isso não é outra coisa senão uma práxis anticolonial de ultrapassagem (espiralar) da Equação de Valor e do aparelho de captura, porque aquilo que não vale nada e não tem espaço está, senão e mais bem, em todo lugar.
Em suma, como afirmou Denise Ferreira da Silva (2020: 112) em entrevista ao curador de arte Hans-Ulrich Obrist, ‘não só é possível, mas também necessário, começar a imaginar a existência de uma maneira diferente’. Para realizarmos essa (difícil, errática) tarefa precisamos nos dedicar a explorar uma transformação no pensamento e a especular com nossa imaginação radical. Ainda de acordo com a autora, ‘o trabalho que deve ser feito é armar o confrontamento, dissolver a conexão entre a imaginação e o entendimento, e libertar o pensamento e a criação em direção a outra coisa’ (Ferreira da Silva, 2020: 112).
Nós – vidas im/possíveis, estilhaçadas e empurradas ao limite-precipício do Mundo Ordenado – estudamos os Sinais do Fim enquanto atravessamos (fugindo) campos em chamas, atmosferas hipertóxicas, desviando de projéteis que cortam o ar e a carne. Tomamos a dissolução/decomposição como uma forma anticolonial e radical de cuidado e, nesse gesto mesmo, propomos adiantar o Fim do mundo como o conhecemos ao procurarmos navegar (sem pausa) rumo ao Mundo Implicado. Lá, aqui, nessa Implicação Profunda, a vida se efetua além e aquém da separabilidade – a vida emaranhada nas coisas, diria Tim Ingold (2015), com a textura e a flexibilidade de uma malha –, oferecendo uma imagem (embaçada, opacada) do Corpus Infinitum, essa plenitude vibrátil e fractal que, sendo infinita – porque imensurável, inacabável –, exprime não o equilíbrio, mas a alternância.
Lá, aqui, somamos nossas vidas que são, cada uma à sua maneira, múltiplas e amorfas, singularidades se efetuando a n-1. Nesse cuirlombismo (Campos Leal, 2021) especulativo e fugidio anunciamos – em línguas estranhas, risadas escandalosas, gozos improváveis e através de cordilheiras de fumaça canábica – que é preciso viver outramente. Que possamos nos implicar com o rio, os espíritos, o fogo, a turmalina, a montanha, o teju – lagarto do agreste nordestino –, os orixás, as máquinas; mas também com a densidade da época e com as histórias im/possíveis para, finalmente, libertarmos a vida lá onde ela encontra-se cativa sob os grilhões do Entendimento. A imaginação radical anuncia o Fim e mergulha no mistério fractal do porvir, insistindo em uma ética não-humana e não-antropocêntrica. Isso é movimento, potência, estudo e força afirmativa de criação. À vida infinita!7
Notas
1. Todas as traduções de citações ou excertos de textos, em outras línguas que não o português, foram realizadas por mim durante a escrita deste trabalho.
2. Aqui, faço referência ao título da primeira atividade pública do Ciclo I do Pivô Pesquisa 2021, desenvolvida e transmitida on line em março de 2021. Tratou-se de uma conversa entre a professora Denise Ferreira da Silva e os curadores Cláudio Bueno e João Simões, da plataforma Explode!, responsáveis pela condução do ciclo. A conferência está disponível on line em: <https://www.youtube.com/watch?v=8FNwYmJyFiA>. Acesso em 07/01/2022.
3. “A gente combinamos de não morrer” é o título de um conto da linguista, poetisa, ensaísta e pesquisadora negra Conceição Evaristo. Nesse conto – como na produção mais ampla de Evaristo – são discutidas transversalmente questões de classe, misoginia, racismo, violência nas periferias brasileiras e fugitividade dissidente; tudo isso através de uma tecnologia (de imaginação radical) que ela mesma chama de “escrevivências”. Mais adiante, no texto, faço novamente referência ao conto, dessa vez citando-o diretamente.
4. Referência ao curso “Incendiar a plantação, fertilizar imaginários”, da mais-que-artista e trans racializada abigail Campos Leal, promovida de maneira remota pelo Centro de Pesquisa e Formação do SESC São Paulo. Campos Leal tem movido a poesia, a filosofia, a fabulação crítica e outras tecnologias radicais para (des)pensar raça, sexo, sexualidade, arte, nacionalidade, justiça, violência, devires animais e cósmicos, etc. Infelizmente, não pude fazer parte das discussões desse curso – embora tenha sido selecionado, em junho de 2021, para participar e experimentar a oficina “Eu era uma estrela – introdução à imaginação radical preta”, guiada por Bibi e oferecida pelo Pivô Pesquisa. Nessa ocasião criei uma poesia-experimentação minoritária, que oscila entre a memória e a especulação, o relato e a imaginação, entre o pesadelo e o sonho vingativo. A criação pode ser lida e experimentada em: <https://www.pivo.org.br/blog/eu-era-uma-estrela/>. Acesso em 13/02/2022. O programa do curso “Incendiar a plantação, fertilizar imaginários” pode ser encontrado em: <https://www.instagram.com/p/CZZaez7LCA8/>. Acesso em 13/02/2022.
5. Aqui, faço referência não apenas à noção de Implicação Profunda, movida na Poética de Denise Ferreira da Silva; mas mais diretamente ao filme “4 Waters – Deep Implicancy” (2018), realizado e co-produzido com o artista e diretor Arjuna Neuman. É possível assistir ao filme gratuitamente e on line em: <https://ehcho.org/conteudo/4-waters>. Acesso em 18/02/2022.
6. As criações, performances, poesias, séries e demais trabalhos de toda a obra de Castiel Vitorino Brasileiro escapam qualquer tentativa de capturá-los em definições tangíveis pela Razão, pelo Entendimento e pelo Sujeito moderno/colonial. Não há definição, assim como não há interpretação única e verdadeira; senão multiplicidades e forças extra-Humanas fluindo e devindo. Para quem tiver interesse em entrar em contato com a obra de Vitorino Brasileiro e experimentar seus feitiços e mistérios, indico o seu site: <https://castielvitorinobrasileiro.com/>. Acesso em 19/02/2022.
7. Aqui, faço referência ao posfácio de “Não vão nos matar agora”, de Jota Mombaça, escrito por sua amiga Cíntia Guedes. Para mais: Guedes, C. (2021) ‘Carta à escritora de vidas infinitas’, in J. Mombaça, Não vão nos matar agora. Rio de Janeiro: Cobogó.
Referências
Baudrillard, J. (1991) Simulacros e Simulação. Lisboa: Relógio d’Água.
Butler. O. E. (2018) A Parábola do Semeador. São Paulo: Morro
Branco.
Butler. O. E. (2019) A Parábola dos Talentos. São Paulo: Morro Branco.
Campos Leal, a. (2020) escuiresendo: ontografias poéticas. Uberlândia: O Sexo da Palavra.
Campos Leal, a. (2021) ex/orbitâncias: os caminhos da deserção de gênero. São Paulo: GLAC Edições.
Da Silva, V. (2021) ‘Barricadas para o fim do mundo’, Serrote – Uma revista de ensaios, artes, visuais, ideias e literatura, 39: 20-33.
Deleuze, G. & Guattari, F. (2010) O Anti Édipo: Capitalismo e Esquizofrenia 1. São Paulo: Editora 34.
Deleuze, G. & Guattari, F. (2011) Mil Platôs: Capitalismo e Esquizofrenia 2. Volume 1. São Paulo: Editora 34.
Evaristo, C. (2015) Olhos d’água. Rio de Janeiro: Pallas.
Ferreira da Silva, D. (2019) A Dívida Impagável. Disponível em: <https://casadopovo.org.br/wp-content/uploads/2020/01/a-divida-impagavel.pdf>. Acesso em 24/02/2022.
Ferreira da Silva, D. (2020) ‘Denise Ferreira da Silva’ [Entrevista concedida a] Hans-Ulrich Obrist, in H. Obrist, Entrevistas brasileiras: volume 2. Rio de Janeiro: Cobogó.
Glissant, E. (2014) O pensamento do tremor. Juiz de Fora: Editora UFJF.
Glissant, E. (2021) Poética da Relação. Rio de Janeiro: Bazar do Tempo.
Gomes, K. H. A. (2021). Uma cartografia antropofágico-afetiva: notas sobre micropolíticas do desejo, colonialidade do gênero e devires vitais. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais) – Centro de Humanidades da Universidade Federal de Campina Grande. Disponível em: <http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/xmlui/handle/riufcg/20488>. Acesso em: 24/02/2022.
Guattari. F. (2012) Caosmose: um novo paradigma estético. São Paulo: Editora 34.
Haraway, D. (2009a) ‘Manifesto Ciborgue: Ciência, tecnologia e feminismo-socialista no final do século XX’, in T. Tadeu (ed.), Antropologia do Ciborgue: As vertigens do pós-humano. Belo Horizonte: Autêntica.
Haraway, D. (2009b) ‘Saberes localizados: a questão da ciência para o feminismo e o privilégio da perspectiva parcial’, Cadernos Pagu 5: 7-41.
Ingold, T. (2015) Estar vivo: ensaios sobre movimento, conhecimento e descrição. Petrópolis: Vozes.
Krenak, A. (2020) Ideias para adiar o fim do mundo. São Paulo: Companhia das Letras.
Leibniz, G. W. (1989) Philosophical Essays. Indianápolis: Hackett Publishing Company.
Löwy, M. (2018) A estrela do amanhã: surrealismo e marxismo. São Paulo: Boitempo.
Miller, J. (1998) ‘Post-Apocalyptic Hoping: Octavia Butler’s Dystopian/Utopian Vision’, Science Fiction Studies 25, 2: 336-360.
Mombaça, J. (2020) A plantação cognitiva. Disponível em: <https://masp.org.br/uploads/temp/temp-QYyC0FPJZWoJ7Xs8Dgp6.pdf>. Acesso em 24/02/2022.
Mombaça, J. (2021) Não vão nos matar agora. Rio de Janeiro: Cobogó.
Mosqueira, B. (2021) ‘Castiel Vitorino Brasileiro: Eclipse’, in C. Vitorino Brasileiro, Eclipse. Disponível em: <https://castielvitorinobrasileiro.com/eclipsebook>. Acesso em 24/02/2022.
Moten, F. & Harney, S. (2013) The Undercommons: Fugitive Planning & Black Study. Nova York: Autonomedia.
Moten, F. (2021) ‘Ser prete e ser nada (misticismo na carne’, in A. Arias et al. (eds) Pensamento Negro Radical: antologia de ensaios. São Paulo: Crocodilo; N-1 Edições.
Ravena, I. & Dilacerda, L. (2020) Como Cortar o mundo com delicadeza? Disponível em: <https://wrongwrong.net/artigo/como-cortar-o-mundo-com-delicadeza#:~:text=Questionar%20como%20cortar%20o%20mundo,a%20l%C3%ADngua%20de%20uma%20serpente.>. Acesso em 24/02/2022.
Rolnik, S. (2019) Esferas da insurreição: Notas para uma vida não cafetinada. São Paulo: N-1 Edições.
Spillers, H. (2021) ‘Bebê da mamãe, talvez do papai: uma gramática estadunidense’, in A. Arias et al. (eds) Pensamento Negro Radical: antologia de ensaios. São Paulo: Crocodilo; N-1 Edições. Vitorino Brasileiro, C. (2021) Eclipse. Disponível em: <https://castielvitorinobrasileiro.com/eclipsebook>. Acesso em 24/02/2022.